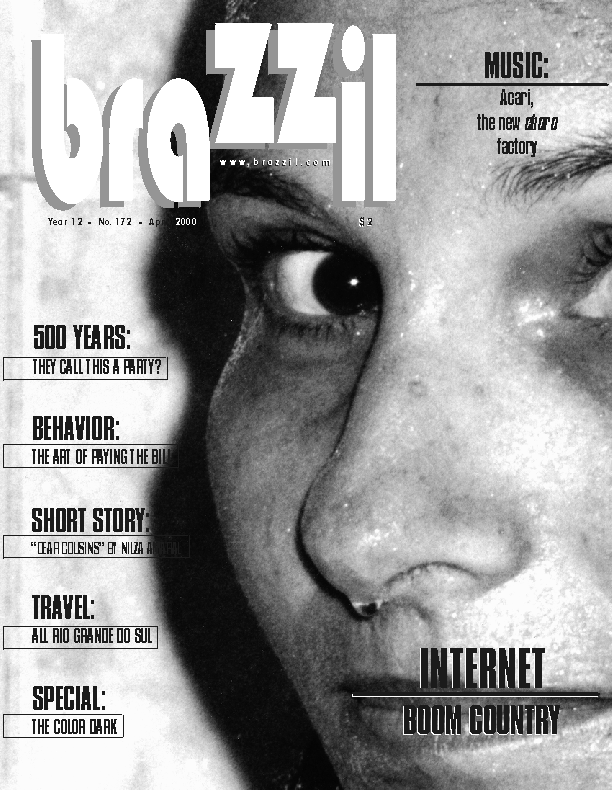Finished the trance, the old man stood up and took the grandson in
his hands. Right then and there you could hear the acauã bird’s singing mixed to the old
man’s anguished laugh. And you couldn’t tell the acauã from the kid’s screaming. Finally,
the cry was born! Mister Manezito laughed and laughed, the first time in his life.
By Maria Abília de Andrade Pacheco
A casinha de pau-a-pique parecia um lampião estranho, jorrando feixes luminosos de
seus mil olhos. Incandescente, a tapera vestia-se de lua, e nenhuma noite jamais seria
escura. Lugares tais são sem-tempo, maltrapilhos ermos de miséria, mundo entre morros,
mundo cuaw6kx domínios são os morros. Por aqui, as pessoas bebem de si o próprio leite e,
à dor que lhes grita, esfolam-se ao cabo da enxada, de onde retiram seus cataplasmas.
Pessoas que não são dadas a queixas, muito menos a vãs esperas. Por essas plagas,
verbalizar pode ser um mau agouro, antes valha o sofrer quieto na faina diária. Trabalhar
é o melhor remédio.
No quintal bem varrido, crepitava uma fogueira de chamas altas, em sinal de vigília.
Fogueira pode ser tanta coisa, mas sobretudo indicia alguma celebração. Sejam suas
chamas sinal de alegria, sejam elas sinal de tristeza, sempre o fogo: o poder do elemento.
Pois entre morros azulados, quase obscurecidos pelo breu da noite sem lua, eis uma
fogueira vermelha soltando faíscas derredor da cafua de olhos em brasa.
Dentro, alguns homens em silêncio pitavam ensimesmados, contemplando o chão caiado
verde de bosta de boi, nenhuma mulher na sala. Em volta do lampião a querosene,
cirandeavam bichinhos-de-luz seduzidos pela luz mais clara a estourar de um único
clarão. E ninguém nunca parou para perguntar a essas bailarinas noturnas se a vida
continuaria além do lume! Decerto essas pequenas vidas respondiam ao chamado das luzes, e
vinham em chusmas, como por mágica, assim como acontece aos ratos, adivinhos das migalhas
nos cantos e da roupa suja empilhada no balaio. As bailarinas noturnas não faziam nenhum
ruído, mas um olhar mais atento certamente adivinharia a cantiga fina das asinhas
translúcidas fremindo. Volta e meia, uma dessas criaturinhas perdia o rumo,
talvez-tonta-de-tanto-volteio, e acabava por esbarrar no colarinho puído de um desses
homens quietos sentados no banco de peroba eterna.
Se tão branco era o barro que caiava a sala, se tão sacro o silêncio no vazio dessa
hora, por que a paz não se oferecia, gratuita e generosa, ao cenário? Fosse porque,
sobre o véu da paz, pesava o suor da conquista, assim cada canto da casa teria seu conto
singular, cada objeto uma história sua.
Por aqui, não fosse bom confiar no esboço da primeira realidade, pois, a olho armado,
as paredes, antes tão lisinhas, teriam lá seus grumos, além de uns buracos horrendos de
onde apontariam ossadas de bambu preenchidas com carne de barro. Num simples piscar, as
paredes, então, se desvirginariam, e pareceria que, por trás de cada imperfeição, é
que encontraríamos o homem.
Pelas frestas da porta do quarto fronteiriço à sala, neste instante, vazavam raios de
outras luzes. Apurando os ouvidos, talvez se percebessem sussurros assobiados, vindos lá
do fundo. Girou a tramela, a porta rangeu, abrindo-se a custo. Mãos que não permitiam o
escancaramento do quadro que lá dentro se preparava detiveram a porta e a cerraram,
girando de novo a tramela tão logo trespassava a fenda uma mulher pressurosa e discreta.
Numa ligeira quebra da aparente paz, os olhos silenciosos se levantaram para a mulher e
os pitos passearam do canto da boca para os dedos. Os homens procuravam algum sinal, mas,
ante os passos certos rumo à cozinha, recolheram-se para as cismas dantes.
Os passos da mulher eram inúmeros e inquietos. Barulho de vasilhas na cozinha, água
enchendo latas, alguma coisa sendo raspada, o que parecia ser uma vassoura varrendo. E os
passos caminhando, quase retornando à sala, depois ao quarto, mas ainda caminhando,
quilômetros e quilômetros pela cozinha. Finalmente, retornaram, ainda rápidos, mas
agora arrastados, e a mulher ressurgiu, com uma grande toalha de algodão pendurada nos
ombros, segurando uma lata de alças de arame, cheia de água até a borda.
Desta vez, nenhum olhar se desviou, nenhuma perna se cruzou nem se descruzou, nada. A
mulher, ciente de sua tarefa, arrastou todo o seu peso até a porta do quarto. Não
precisou bater à porta, pois as mesmas mãos a esperavam, de novo consentindo apenas na
abertura suficiente para a entrada, primeiro da mulher, depois da lata, esta por um
momento deixada lá fora, no chão, enquanto a porta se abria e a mulher entrava.
Tanto cuidado era inútil, já que agora os olhos da sala não insistiam em procurar
evidências pela fenda da porta. Realmente, o tempo parara sua hora quando o acontecimento
ainda não viera. Tudo parecia quedar-se à soberania de uma quase paz. Nos círculos de
bichinhos-de-luz em volta do lampião, a mesma e mesma repetição do refrão silencioso.
Os homens da sala pareciam xilogravados sobre o banco de peroba eterna, mudos e imóveis.
Aproveitando a aragem que nesta hora sopra da porta entreaberta da sala, interrompa-se
esta hora morta e escorreguem-se os olhos certos pelos buracos da porta trancada. À
cabeceira de uma cama antiga, uma bacia esmaltada com um jarro dentro. Aos pés da cama,
uma toalha de algodão perfumada pelas flores da estampa—a toalha de algodão que a
mulher dos passos arrastados trouxera pelos ombros. Na mesinha próxima à janela, uma
vela tremeluzindo direita-vida, esquerda-morte, direita-vida, esquerda-morte. O cheiro da
água fervente, o quarto abafado, iluminado pela chama da vela e pela luz de outro
lampião que pende da parede sobre a cabeceira da cama. A água da vida envasada no jarro
da bacia esmaltada, e a morte, solta e liberta ao sopro da primeira lufada que entre pelos
buracos da parede de enchimento.
Não, ninguém aqui era pobre. E por que o seria? Só porque a casa era tão cheia de
espaços, só porque havia mil buracos por todos os cantos, só porque essa luz do quarto,
mesmo multiplicada por outros mil buracos, não bastava para preencher todos os escuros?
Naquele lugar ninguém viajava em sonhos, seria. Todos como agradeciam a dor mais dolorida
que sem aviso batia a uma das muitas portas que a vida abria e fechava. Na verdade,
travava-se um combate sólido com a dor, numa evocação ao que de magnânimo, para,
diante da própria pequenez, aplacar a consciência. Filho morrer de fome, nunca: mal de
sete dias. Filho vingou e cresceu robusto, perigo de quebranto, ou seja, perigo de uma dor
maior, porque mais suportável é a dor do que ainda não se possui de fato.
A chama da vela tremulava pra-lá-pra-cá, direita-vida, esquerda-morte, direita-vida,
esquerda- morte, certa de seu papel de árbitro. Nos rostos esquálidos de olhos e boca
espantados—mesmo sem estarem, de fato, as mulheres assustadas—passeavam muitas
sombras. Tais mulheres compunham a cena, acólitas, preparadíssimas para a morte,
agradecidas pela vida em acréscimo.
Eram três essas donas, às voltas com seus afazeres certos, cada uma absoluta em sua
tarefa. Colassem-nas num outro cenário, numa paisagem além dos domínios desses morros,
todo o mundo as teria por irmãs, pois sua conformação à vida parecia ter-lhes moldado
também as feições, e todas como que passaram a carregar nos rostos os mesmos traços
salientes de madeira entalhada, realçados pela magreza. Tinham igualmente os mesmos
trejeitos, as mesmas interjeições diante do imprevisto, as mesmas vaidades. Que vaidades
tinham, sim, quando, em bons dias de festa, as atenções se voltavam para seus cabelos
compridos, caindo até a cintura, cabelos que viviam dia e noite presos em coque, agora
soltos ao rodopio de danças de passos inventados, sem nenhum respeito ao ritmo certo.
Alguém pontuava uma viola, e, fosse forró, fosse música caipira, fosse o que fosse, os
passos iam e vinham, tornavam a ir, dois-pra-lá, dois-pra-cá, depois o volteio. Mesmo
que se tocasse um lamento, música vagarosa, parecia que ninguém prestava atenção à
mudança do ritmo, e continuava o alegre balé de rodopios, até que um gritava:
"Toque outra música, que essa é muito devagar!" E todos riam, e voltava a
música animada.
D. Zeza era a mãe da mulher que se contorcia em dores na cama, da mulher que ia dar à
luz dali a algumas rezas. D. Zeza trazia um livrinho de capa preta entre os dedos morenos
e sibilava ininterruptamente ladainhas ininteligíveis, vez em quando os olhos subindo ao
céu e voltando para o livro, depois fechando-se, e ninguém saberia se afinal ela
realmente lia o livrinho de capa preta, porque as orações todas já tinha a mulher
decorado à sua maneira, e nada seria lido direito se ela elegesse outra pronúncia em
prejuízo da letra escrita.
Então, por que o livrinho de capa preta?
Abrenúncio! Por essas bandas, o perguntar é mau procedimento, não casa com moço de
bem! Aqui não se usa muito palavreado, e mais sabido é quem sabe calar-se, fechando bem
a boca, os olhos contando formiga no chão. Que, bem se sabe, existem uns costumes
cravados no peito do caboclo, tais como as chagas que fincam o Cristo no crucifixo de
sucupira. E como surgem tais costumes? Concorda seja esta uma pergunta tola, pois não!
Que esse tal livrinho de capa preta é como o vestido preto no luto, o pé calçado na
missa, a enxada na capina, o pito no canto da boca, a lenha seca esperando a fornalha.
Explicação não há de se buscar no que de costume, desde que são os próprios
hábitos, bem se vê, as explicações.
De uma coisa, não obstante, esteja certo: o livrinho de capa preta estará sempre
entre as mãos de uma mulher em horas de tempestade, de nascimento, de morte, de alguma
preocupação com a criação que não foi encontrada, em tudo o que cause desassossego. O
socorro do livrinho tem a mesma valência do olhar piedoso do santo. Apegar-se com tudo.
Apertar no peito o bendito livrinho de capa preta. Acender todas as luzes. E rezar. Mesmo
não sabendo ao certo as palavras da reza. Ou, ainda que as sabendo, não atentar para o
que signifiquem.
Dona Zeza tivera cinco filhos homens, além de Tatinha, a parturiente, mas, como ela
mesma dizia, "dos cinco, vingaram três, dois Deus levou". Era muito conhecida a
história da morte do seu primeiro filho. O menino morrera em noite alta, a mãe sozinha
com ele no quarto, Seu Manezito dormindo no quarto de arreios a pedido da própria Dona
Zeza. O menino vinha definhando, definhando, os olhos saltando das órbitas, a cor se
esmaecendo. Magrinho, nem chorar chorava, que só o que conseguia era um grunhido rouco.
Dona Zeza bem que tomara providência, chamando Dona Corina para os habituais rituais de
rezas, mas nada valia. Eis que um dia, o menino obtivera uma certa melhora, não obstante
a febre permanecesse altíssima. Dona Zeza, tão cansada estava, que sobre o ventre deitou
o pequeno de bruços, e dormiu. Quando acordou de madrugada, viu que a barriguinha dele se
mexia como um balão murcho esvaziando-se, o peito arfava. Dona Zeza compreendeu o
momento. Primeiro sentiu vontade de gritar e correr para fora da casa, correr, correr,
até chegar ao ipê roxo que margeava o rio. Mas, num repente, conteve sua dor, firmou a
idéia no certo da hora, e, assim, como num lampejo, deduziu que às vezes a hora é que
vive a gente, e o melhor é entregar-se ao vento que sopra, deixando que o momento nos
furte a seiva vital. Por isso, respirou o ar com pausa, moldando com distinção a figura
de sua pessoa no quadro prestes a ser finalizado. Assim permaneceu estática, ao lado da
vida que se lhe viera um dia e que agora de si partia. Contemplou o filete invisível que
ligava seu coração direto ao coração do menino e, assim, foi ela mesma desfazendo o
enlace dos nós que impediam o caminho. Com paciência, tomou do livrinho de capa preta e
foi entoando cânticos fúnebres. Enquanto cantava, abraçava o corpinho, as lágrimas
molhando a moleira do bichinho como a pedir "fique", ou, sabendo-o morto,
despediam-se, nessa tristeza tão comum nos desenlaces. Primeiro fora a lagoa do ventre,
depois viera o sangue, em seguida o regalo do leite, e agora era a lágrima. Ah, os mares
convulsos de Dona Zeza, confinados na garganta, querendo romper o dique! Mas o momento
também imperava sobre os ímpetos, exigindo que emergisse de tanto líquido vital uma
mulher fortalecida, vestida com a armadura dos costumes arraigados: "não chore,
lute". Passada a lufada trágica, Dona Zeza reacendeu a vela com um isqueiro,
presente do Tio Justo, e descansou seu anjinho na beirada da cama. De novo, o menino era
seu. Cantou um acalanto que aprendera da avó, mirou por bom instante a carinha miúda e,
afinal, descansou-se de sua angústia, mansamente recolhendo-se à outra beirada da cama,
a coberta sobre a cabeça, o sono até o nascer do dia. Na hora costumeira, levantou-se,
pôs a mesa do café, esperou que todos se servissem, e só à hora de recolher a louça
foi que deu a notícia: o menino não vingara. Foi um corre-corre, as crianças se
empurrando até o quarto e caindo no choro, o pai desolado, a casa toda tingindo-se de
luto. Mas, enquanto os outros choravam o menino, Dona Zeza, iluminada, já transpusera o
momento e agora já tomava seu café preto sentada no banco de peroba eterna—que à
época ficava na cozinha—permitindo-se contemplar distantes morros pontuados de
nuvens brancas que anunciavam tempos de muita quase-paz para os próximos dias.
Engraçado como as imagens vinham bem desenhadas agora. Dona Zeza quase podia
lembrar-se do sopro do vento, do cheiro do café coado, da ruga aflita do Seu Manezito,
fechando a tranca do choro. E Tatinha, tão criança, sentada no meio da cozinha brincando
com umas pedrinhas! Dona Zeza olhava para a filha agora, na perfeição do momento da
entrega, quando a hora vem e nos engole. Como se orgulhava de sua menina, forte no
silêncio de conter a fúria das dores que se amiudavam, mais e mais!
Tatinha, conquanto contivesse os gemidos, transformando-os em suspiros quase
imperceptíveis, contorcia-se, à mercê de mãos prestativas—as mesmas que abriam e
fechavam a porta do quarto—mãos que lhe enxugavam constantemente o suor evaporado de
todos os poros. A mulher quase menina não tinha nenhum pensamento naquele momento que
não fosse voltado para a dor da próxima contração. Enquanto aguardava a fisgada, suas
idéias deslizavam dos lençóis enrodilhados para a bacia com o jarro, para as paredes
brancas, para o crucifixo nas mãos da parteira, Dona Corina, que gemia uns cânticos
pagãos herdados de bisavós africanos.
Dona Corina era uma velha de mais de cem anos, segundo ela mesma dizia. Mas não tinha
registro de nascimento, tal qual toda a gente do Comercinho do Jacu, povoado formado de
uma única viela aberta a duas fileiras de casas, mais adiante a igreja, a venda, e lá
longe as fazendinhas, léguas e léguas separadas, ilhas longínquas. Dona Corina vinha
sendo parteira desde que nascera Dona Naná, avó de Tatinha. Três gerações vindas ao
mundo pelas mãos de bronze da velha! Mas Dona Corina não era só parteira. Conhecedora
de mandingas e de tudo o quanto fosse reza brava, atendia a todo e qualquer chamado de
desespero, sempre acompanhada lá de suas rezas, raízes e água benta. Dona Corina
rezadeira. A criança vinha ao mundo pelas suas mãos, livrava-se das doenças pelas
garrafadas por ela preparadas, casava-se sob suas bênçãos, sobrevivia à custa de suas
rezas. Dona Corina, sacerdotisa, padroeira do Comercinho do Jacu, salve, salve!
Tinha a velha muito caso para contar. Todos conheciam o caso da filha de seu Lázaro,
que escondia peitos de loba pela barriga: a menina tinha seis verrugas—seis mamilos
no dizer do povo—ao longo do ventre, por isso vivia trancada num quarto escuro do
sótão, recebendo só um mingau de fubá dia e noite, isso quando a empregada não
esquecia de levar-lhe a iguaria. E o pior é que Dona Corina, quando encontrava algum
sinal suspeito, já saía divulgando a notícia como certa pelo Comercinho do Jacu,
sedento de novidades, lugar onde o sol nasce e se põe todos os dias e uma nuvem mais
pesada dá o tom das conversas.
Aproximava-se o romper de mais uma vida. Dona Corina colocou a mão direita na testa de
Tatinha e ficou esperando o acontecer certo. E o menino rebentou, finalmente, num salto de
quem não agüentava mais a pressão do afogamento na lagoa materna. Saiu encarando o
mundo e as mulheres, uma a uma. Olhos de velho, a chama da vela cresceu, pintando um
quadro sinistro de caveiras descarnadas em torno de um menino robusto, que não dera
nenhum choro. Seria esse desacerto bom ponto de conversas em torno da fumaça do café na
manhã que principiava. Mas Dona Corina fingiu ignorar o mistério, preferindo retornar ao
seu ofício, que faltava ainda o tapa bem puxado no traseiro do menino para provocar o
primeiro choro, o grito da vida brotando com ímpeto da garganta que se abria para o
mundo. Dona Corina fez uma cara de sábia, deu um sorriso pequeno de meio de boca, depois
sapecou o tapa final, com triunfo. Nenhum choro. Silêncio mortal no rebôo do tapa. Todos
fingiram ignorar os olhos adultos do menino. O que antes era prisioneiro do útero agora
se confinava no terror dos olhos de lamparina.
Todos se paralisaram, o livrinho de capa preta rolou das mãos de Dona Zeza, as mãos
solícitas tremeram convulsas, só a mãe, coitada, permaneceu em espera, olhos fitos na
parteira, como a esperar da mulher alguma resposta. Dona Corina, com o menino nos braços,
muda e atarantada, sequer respirava. Dona Zeza, de novo, relembrou o momento em que tomara
a decisão de entoar cânticos fúnebres ao filho agonizante, as tais providências, o
socorro consolador dos rituais. Mas se desta vez não houvera morte! Catou o livrinho de
capa preta do chão, no primeiro movimento da cena, leu baixinho sua toada, como de
costume, as mãos auxiliadoras retomaram o arrumar dos lençóis, e a mãe, finalmente,
repousou a cabeça no travesseiro.
Só Dona Corina continuava atrás de respostas. Por longo tempo contemplou o menino à
procura de sinais, de um pontinho que lhe gritasse o primeiro cuidado que deveria tomar.
Nada, nenhum dedinho torto, nenhum defeitinho secundário para servir de fio de conversa
nos próximos dias. Que Dona Corina, pela primeira vez, sentira medo de divulgar a
aberração da primeira hora. Precisava naquele instante fazer algo, mas em tudo o que
pensasse lá vinha a idéia superior de um menino que não chorara ao nascer. Dona Corina
parecia prisioneira do fato incontestável e irremediável.
De repente, num piscar dos olhos que viram passar a noite em claro, viu a
movimentação das mãos na cama enrodilhada, das mãos que abriam e fechavam a porta, das
mãos que antes cuidavam de Tatinha e agora trocavam lençóis com presteza, levantando
com cuidado o corpo da moça, passando-lhe por debaixo os panos muito alvos. Dona Corina
serenou-se: faltava ainda o ritual do banho! E já podia ver a criança se esgoelando na
água, arroxeando-se, segurando firme os punhos! A um olhar para a "De mãos",
esta correu a abrir-lhe a nesga de porta, por onde Dona Corina mais uma vez passou à
sala. A cena, demasiado repetida à noite, certamente desta vez não terá despertado
nenhuma maior atenção. Os homens esculpidos no banco de peroba eterna devem, no máximo,
ter lançado olhares enviesados à velha, os pitos certamente terão passado do canto da
boca para os dedos, à espera do arremate. Novamente, Dona Corina, não teria dado sinal.
Mas só não o fizera desta vez, porque, conquanto nascida a criança, ainda havia um
"a ver", a resposta que a própria Dona Corina esperava: o berro do banho. E aí
então podia dar com gosto a notícia e se retiraria tranqüila da sua missão.
Tatinha ressonava, o cansaço maior do que qualquer sombra de aflição. Dona Zeza,
enfim salva pelo livrinho de capa preta—que sempre haverá uma prece que ainda não
foi rezada—murmurava seus assobios. E a outra mulher pousava as mãos no colo,
aguardando a volta de Dona Corina.
Ao retorno da parteira, restabeleceu-se a atmosfera de aguardo, como se os episódios
tivessem sido colados numa roda que despenhasse de uma ladeira, repetindo-se, um a um,
sempre e sempre, sem nenhum respeito à fé ou esperança no inédito, os momentos
reforçando-se nos repetires, e a engrenagem nunca emperrando, que os próprios anseios
mais recônditos cuidavam de lubrificá-la do desgaste natural do tempo. A vida, um
moto-contínuo.
Dona Corina gemeu seus cantos ao balanço do recém-nascido, embolado em panos. Desta
vez, uma vassoura de ervas foi depositada no fundo da bacia de cobre: funcho, poejo,
arruda, erva-de-santa-maria, mastruço, camomila. Ora, o acontecer novo pedia mandinga
nova, e foi num estalo que Dona Corina tivera a idéia de deitar o menino em infusão.
Como por milagre, rapidamente a velha foi-se recompondo, ressuscitando a Corina
curandeira, da qual a parteira era apenas uma sombra. Dona Zeza entoava o Kyrie bem lá à
sua maneira e o cântico foi-se misturando aos gemidos cantarolados de Dona Corina, num
dueto dissonante e sem rumo, compondo um hino que parecia existir há uma eternidade. A
eloqüência da música era tamanha, que acordou Tatinha do sono tranqüilo. A moça,
assustada, imediatamente procurou com os olhos algum novo acontecimento. Tomou o menino
nos braços fingindo-lhe um beijo na testa, e sentiu-lhe a respiração. Nada mudara.
Então, a reza?
O rito prosseguia. Dona Corina colocou o menino na bacia de água morna e, certa do
porvir, aguardou o choro. Mas o choro não veio. Que parecia que o menino gostava da
água, das ervas de cheiro forte, do abrigo das mãos que o acariciavam, lavando-lhe as
dobrinhas. Dona Corina começou a impacientar-se, lançando mão de mil artifícios para
provocar o primeiro choro, e até um começo de beliscão foi ensaiado. Depois, não vendo
resultado, apelou de um último recurso: chupou o nariz do menino, alegando o
desimpedimento do respirar dele. Quase bebeu o fôlego da criança, mas, solto o nariz das
ventosas sugadoras, permaneceu o silêncio do choro não berrado.
Dona Zeza apressou-se em vestir a primeira veste no neto e, indiferente ao mistério
que saltava dos olhos de Dona Corina, entregou, finalmente, o menino à mãe sua dona.
Novamente, a avó quedava-se à pujança do cenário, desistindo da insistência inútil.
E Tatinha, até que enfim, pôde sorrir a primeira vida, ainda não inaugurada. E já o
que antes era menina agora era uma mãe como qualquer outra, filha de outra mãe que agora
adquirira mais um olho. A solícita ajudante pousava as mãos na cintura, à espera de
comandos.
Só Dona Corina não se conformava. Seu espírito vagava na ancestralidade, em busca da
mais remota fonte de água cristalina que a redimiria. Perscrutava o ar, sorvia-o
longamente, apurava todos os sentidos para interceptar, no vento, quem sabe, a mosca
arisca do presságio alvissareiro. Então, de novo o que tanto ouvia era o silêncio do
choro que não viera. Assim tremeu, pressentindo a aposentadoria. E essa gente, quando
aposentava seus ofícios, ninguém mais as via, desmanchavam-se no ar. Só se lembrava
delas no dia de seus enterros. Era o Tião da padaria, a Socorro professora, o Pedro
marceneiro, sobrenomes preciosos nessa terra de arrancar pedra para fazer pão de poeira.
A termo, a lida da Corina parteira. Sentiu. Certas coisas não precisavam escritura nem
nome, e emoções estariam proibidas. Pois nesses rincões o que se valoriza é o frio, o
seco, o mulato que não se verga ao peso de sua carga. Choro, só disfarçado na chuva,
truque já por demais conhecido. Que chorar sem mexer nenhum músculo é a maior dureza,
arte de fino apuro.
A velha parteira dobrou as pernas, sentando o corpo num banquinho ao lado da janela.
Deixou, por último, que as outras três mulheres cumprissem seus afazeres. Mesmo à
sensação de incompletude, cumprira pelo menos o papel de parteira. Mas as forças lhe
esvaíam pelos olhos secos de lágrimas, olhos muito azuis na preta-velha, um oceano
dentro, preso. Ela por tantos, e ninguém por ela! E as outras já agoram riam e mimavam o
menino, todas contemporâneas da realidade. Mas Dona Corina, bem sabia, fora recusada pelo
momento, por isso fechava os olhos.
Dona Zeza pronunciou "Sebastião", evocando o santo, para dissipar a
aberração do choro mudo, também preocupada em silenciar a parteira, que desta vez não
saísse a divulgar a novidade. Não carecia deste zelo, que Dona Corina não iria mesmo
fazer escarcéu do episódio, porque desta vez, não sabia lá bem por quê, o que sentira
fora somente o fraquejar das pernas, o cansaço da noite em claro, o frio do sereno.
Nisso, os homens da sala, chapéus sobre os olhos alguns, finalmente viram a porta
abrir-se a largo e dela surgir Dona Zeza, carregando no colo o menino. Surpreso, mesmo
assim o que era o pai levantou-se, indagando com os olhos "Mas se não houve nenhum
choro!". Dona Zeza fingiu não ouvir seu pensar. O rapaz contemplou o filho demorado,
depois dirigiu-se à cozinha, ao aguardo do café da manhã, pontual ao cantar do galo. Os
outros homens levantaram-se de suas posições e também miraram o menino, mas sem cuidado
nem detença, dispersando-se tão depressa quanto batiam os olhos no casulo.
O avô, este sim, permanecia quieto, entalhado no banco de peroba eterna, como a
esperar, educadamente, que os outros satisfizessem seus impulsos, que o tempo do depois
fosse todo dele, o tempo do sentir com vagar. Ao silêncio de Seu Manezito, Dona Zeza foi
que se dirigiu ao homem, estendendo-lhe a criança. Tirado do transe, o velho levantou-se
e tomou o neto nos braços. No mesmo instante, ouviu-se o canto do acauã, misturado ao
riso desesperado do velho, e não mais se sabia o que era acauã, o que era riso, o que
era berro de criança. Finalmente, o choro nascera!
Seu Manezito ria e ria, primeira vez na vida. Aquilo seria mau agouro? Mas o riso não
é o cântico de Deus? O catecismo do Deus perfeitíssimo? Todos os cantos da casa
impregnaram-se da risada troante do avô do menino mudo, da cria que agora também parecia
ter olhos enormes, segundo Dona Zeza, que usava desse expediente para apaziguar a velha
Corina. Dona Zeza, que mulher, continuava sua faina, idolatrando o momento na
indiferença, que mulher que sabe ser esposa não fica levantando questão, nem
especulando. Mulher faz é seu bom trabalho, coando café a mortas horas. E Dona Zeza
possuía uma grande qualidade: não era de sair descascando bananas maduras só pelo
prazer de jogar a casca fora. Que, ora, o velho, a seu modo, teria descoberto que só
naquela hora o neto nascera de fato. E em seus braços! Ah, bem se dizia que uma verdade
bem escamoteada valia mais do que uma mentira verdadeira!
A fumaça subia do coador até as alturas, entremeando-se com a risada do velho
Manezito e com os guinchos do menino. As montanhas verdes, o grande aterro de areia e
pedrinhas, o céu laranja-avermelhado em aquarela, tudo se rendia, submisso, ao senhorio
de um velho com o neto no colo. No quintal, só restavam os tições da fogueira noturna,
apagados, com toda a certeza, pela ajudante de mãos indispensáveis. Quadro vivo. Vida
morta. Relógio bizarro construído de minguadas andorinhas na imensidão de nuvens
brancas. O tempo, signatário do pacto. O tempo, escoando, como um montinho de areia, do
punho trancado. Outra vez, todos se esqueciam de quem seria o dono do mundo, se capeta, se
Deus. Cabelos iam caindo, unhas iam sendo cortadas, roupas iam virando molambo. O tempo
fosse o senhor soberano.
Servido o café, Dona Zeza voltou ao quarto com o menino e deitou-o novamente no canto
da cama. Dona Corina descansava seu sono com a cabeça pendida sobre o peito. Tatinha
acariciou o pacotinho embolado nas cobertas ao seu lado, serena, olhos fechados, quase
dormindo. Dona Zeza caminhou novamente para fora do quarto, apressada pela lida diária.
Foi quando lá fora o vento começou a soprar estranho. Sobrelevando-se aos costumeiros
assovios, algo que tanto mais parecia um cântico entoado por alguma procissão vinha
vindo, vinha vindo, cada vez mais perto, até invadir todos os buracos do casebre. A
estranha melodia, entoada a muitas vozes, lembrava o hino confuso entoado por Dona Corina
e Dona Zeza no ritual do primeiro choro.
Olhando os pés daquele povo, que muito se pareciam com mãos de pilão socando terras
tão duras, compreendia-se no ar uma ânsia pela chegada de algum salvador. Eram muitos os
sinais: o menino nascera sem choro. Seu Manezito rira todo o riso de uma vida inteira. O
acauã entoara seu canto de morte. Que verdade maior sobrepujaria a certeza lavrada por
rastros tão profundos?
Da varanda do casebre, Seu Manezito se benzeu, com respeito e Dona Zeza, dali do alto,
como viu, invisível, o mesmo filete que antes ligara seu coração ao do filho morto,
agora o filete se estendendo do alto da mancha humana até o quarto onde dormia o menino.
E desta vez não havia nenhum nó a entortar o caminho. Dona Zeza abriu os braços e caiu
de joelhos, a multidão reiniciou o hino a vozes que alcançaram as nuvens. A casa tremeu
todos os caibros.
A procissão foi entrando, da sala até o quarto. O menino estava no colo da ajudante
de mãos protetoras, que o agarrava contra si como a protegê-lo do embolado de queixas,
preces curtas, louvores, tudo gritado primeiro a uma voz, depois a várias angústias.
O cenário voltou-se para Dona Corina: a cabeça sem pescoço cambaleava sobre o peito,
os olhos mantinham-se, a custo, abertos. Num último esforço, a velha parteira iniciou um
refrão inventado, no que foi responsada, de imediato, pela ajudante. As demais vozes
silenciaram-se. Dona Zeza rompeu a porta e tratou de agregar-se ao diálogo das duas
mulheres, sempre desfiando suas rezas tiradas do livrinho de capa preta. O momento
decalcava a figura das três donas na pintura perpétua, uma delas sustentando o embrulho
do recém-nascido. Tatinha sorria para um rosto conhecido que divisara no grupo dos
contritos.
Uma quase-paz instalou-se naquela hora, no entanto ausentes os bichinhos-de-luz em
volta dos lampiões a querosene. O primeiro sol, finalmente, incandescia a tapera por
inteiro, propulsionando o moto-contínuo. Seriam necessários outros mil anos para
desbotar cores tão vivas.
This short story, whose original title is "A virada do milênio no
sertão", was written especially for Brazzil.
Maria Abília de Andrade Pacheco, the author, was born in Virgolândia,
state of Minas Gerais, on October 25, 1963. She moved to Brazil’s capital, Brasília, when
she was 14 and has lived there since. She graduated in Letters from Universidade de
Brasília in 1985. Married, mother of two kids, public servant, homemaker, she writes for
the Website http://www.usinadeletras.com.br,
the place where you can contact her.
Send
your
comments to
Brazzil